Não acho muito normal pensar no assunto dessa forma, mas sempre entendi que adaptações — independendo as mídias de origem e de destino — têm muito em comum com telefone sem fio, aquela brincadeira de criança. Para quem não teve infância, ou para quem cresceu num lugar onde a brincadeira não era muito comum, eu explico: telefone sem fio consiste em ouvir o coleguinha sussurrando no seu ouvido e depois sussurrar no ouvido de outro coleguinha o que você entendeu. A graça estava no fim do percurso de sussurros, quando o último coleguinha da fila falava em voz alta o que ele tinha entendido e, com níveis variados de hilaridade, o que ele falava não tinha nada a ver com o que foi dito pelo que sussurrou primeiro. Agora que penso no assunto, não era uma brincadeira muito boa — mas ainda acredito que ela transmite muito bem a ideia geral de se adaptar uma obra para outra mídia.
Imagine-se, caro leitor, dirigindo a próxima adaptação de Senhor dos Anéis. Imagine-se dividindo o controle criativo dos três filmes com produtores, que querem fazer o possível para que o projeto gere lucro, e com o departamento de marketing do estúdio, que vai pesar cada uma das decisões que você tomar através de uma métrica construída a partir de algoritmos de popularidade e tendências nas redes sociais. Ruim, né? Mas se imagine tendo de encontrar o roteiro ideal para a sua adaptação, não só algo que respeite os livros mas que também funcione em méritos audiovisuais; imagine-se ouvindo as expectativas dos fãs, as críticas que eles já estão fazendo antes mesmo de você começar a trabalhar; por fim, imagine que você nunca leu nem um livro de Tolkien, nunca gostou deles, e sempre achou os filmes antigos chatos.
Parafraseando meu vídeo-ensaísta favorito, não estou tentando dizer que o esforço colocado em cada uma das muitas adaptações que são feitas anualmente faz com que elas mereçam respeito; apenas tentando ilustrar os pequenos sussurros pelos quais uma obra original tem de passar antes de ganhar uma nova forma e (por que não?) nova vida. Quando se coloca em perspectiva todos os meandros pelos quais uma adaptação passa, fica até admirável que ela se pareça com o material de origem. A única coisa que impediu os filmes do Peter Jackson de se tornarem algo completamente diferente, então, foi o eco daquele sussurro original — a proposta de transpor as páginas escritas por J.R.R. Tolkien para a tela grande.
O quão intenso pode ser o eco de um sussurro?
Semana passada eu assisti The Haunting, que rapidamente se tornou o mais belo filme em preto e branco de meus rankings. Para além dos méritos visuais do filme, e de seus muitos outros méritos porque ele é muito bom mesmo, o que mais me surpreendeu foi o quanto a série The Haunting of Hill House melhorou aos meus olhos depois de assisti-lo. Eu sabia que tanto o filme quanto o seriado estavam adaptando o mesmo livro, e que ambos não eram as única tentativas de fazê-lo, mas foi só depois de ver o quanto do DNA do primeiro tinha sido reaproveitado no segundo que entendi muitas das escolhas criativas da série, e assim passei a apreciá-la melhor.
Eu não teria como explicar esse DNA sem dar spoilers consideráveis tanto de Hill House quanto de The Haunting, mas pequenos detalhes como nomes de personagens, arcos emocionais, reconstrução/reaproveitamento de sets e expansão de cenas/conceitos são algumas das práticas empregadas pela série para se provar não só como adaptação do livro original — que fiquei com vontade de ler depois do filme —, como também um remake do filme de 1963.
Sei no que você está pensando. Eu também dediquei algum tempo ponderando essa pergunta.
Não, nenhuma obra deveria depender de outra para ser completamente apreciada. É um fundamento básico do jornalismo não assumir que o leitor sabe do que o escritor está falando, mas a sabedoria por trás desse preceito pode ser aproveitada em todas as áreas da cultura. Se The Haunting of the Hill House fosse uma péssima série, eu jamais passaria a gostar dela por reconhecer alguns cenários ou entender o motivo de certas cenas serem tão enfatizadas. O mesmo vale para Watchmen, que é um filme incrível quando se é fã de Zack Snyder mas simplesmente terrível sob qualquer outra ótica — não importa o quanto do material original está presente na adaptação se ela, em si mesma, é ruim.
Estudo de caso: Harry Potter. Falando como alguém que tem nove livros relacionados à franquia na estante e foi assistir os dois últimos Animais Fantásticos no cinema, é de minha convicção pessoal que não existe um único filme realmente bom baseado nos livros de J.K. Rolwing — que são maravilhosos, não me entenda mal. Os dois primeiros longas, dirigidos por Chris Columbus, são adaptações 1:1 do material original e por isso mesmo são filmes insuportavelmente lentos; o terceiro, de Afonso Cuarón (!!!), é um festival de visuais e atmosfera soberbos que peca por ter cortado tanto do material original que a história acaba perdendo boa parte do sentido; o quarto, de Mike Newell, tenta estabelecer um meio-termo entre o livro que está adaptando e o filme que precisa ser, terminando desconexo apesar dos melhores arcos de personagem da saga; a era Yates, que começou em Ordem da Fênix e continua até hoje, é composta por filmes sem começo ou final carregados nas costas pelo elenco e pelo legado de Cuarón em Azkaban. O leitor não quer, repito: não quer, que eu fale sobre Animais Fantásticos.
Estranhamente, eu adoro todos os filmes de Harry Potter. Bom, quase todos; não sou capaz de assistir Câmara Secreta sem dormir, e minha decepção com Cálice de Fogo (o livro) acabou vazando para Cálice de Fogo (o filme). Mas sim, apesar de serem filmes criticamente falíveis e cheios de pequenas inconsistências, eu os adoro. Por nostalgia, primeiramente, e também porque o universo criado por Rowling é inigualável na cultura popular. Pelo elenco, que é carismático e praticamente doou os melhores anos de sua juventude para trazer cada personagem à vida. Pela atmosfera sombria e confortável, pelas sombras góticas e a arquitetura medieval estilosa.
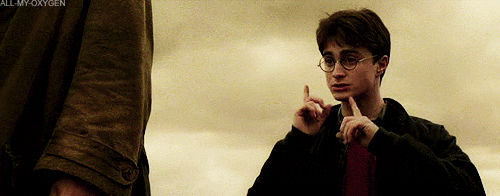
E sim, isso é basicamente o que aconteceu quando assisti The Haunting. Chegou num ponto, caro leitor, em que cheguei à conclusão de que O Enigma do Príncipe era meu filme favorito de toda a saga. Sim, o filme menos favorito de todo mundo, o que o elenco menos gostou de ter gravado, o que deu problema atrás de problema em todos os estágios da produção. Eu simplesmente me apaixonei não pelo filme em si, ou pela história ou visuais dele, mas sim pelo processo de adaptação envolvido no roteiro. Enigma foi o filme em que mais percebi o trabalho dos roteiristas em trazer a essência do livro que estavam adaptando, não essa ou aquela cena, mas a essência da história. Acontecimentos são modificados, cortados ou ignorados para criar a narrativa mais coesa de toda a saga de filmes (excluindo Relíquias da Morte, que é uma história simples e teve dois longas para se contada). Assistir O Enigma do Príncipe logo depois de terminar o livro foi uma das experiências audiovisuais mais prazerosas que tive em muito tempo. E não por ter gostado muito da obra literária e transmitir meu carinho por ela à adaptação, mas sim por causa do raciocínio por trás da adaptação em si.
É bem possível que minha tentativa de explicar em palavras essa sensação quase eufórica que senti assistindo o sexto filme de Harry Potter seja inútil, porque todo mundo sente isso. Digo, por que outro motivo adaptações são tão populares além da falta de criatividade da indústria cinematográfica? Mesmo quando um filme desrespeita o material de origem e irrita os fãs, ainda é divertido dissecar os motivos por trás dos erros cometidos e brincar de jogo dos sete erros comparando ambas as obras. Ainda assim, acho estranho maravilhoso que, no mundo em que vivemos, seja possível divertir-se não com um filme em si ou com a obra em que ele se baseia, mas sim com as diferenças ocasionadas pelas limitações intrínsecas das respectivas linguagens.
Cá entre nós, eu sempre achei jogo dos sete erros mais legal que telefone sem fio.

.png)



Comentários
Postar um comentário